Entre a Nostalgia e a Realidade: Uma Crítica às Leituras Moralistas do Passado nas Marchinhas de Carnaval
A reflexão sobre o passado, especialmente quando permeada por uma retórica moralista que invoca a expressão “ah, é porque antigamente não tinha essas coisas, essas baixarias”, revela uma tensão complexa entre memória seletiva e a realidade multifacetada da cultura popular brasileira. Ao examinar o registro de crônicas atribuído a Antônio Torres, que remete a uma marchinha de carnaval com mais de cem anos, percebemos como a tentativa de romantizar o passado esconde a própria natureza contraditória e ambígua das manifestações culturais.
As marchinhas de carnaval surgiram num momento de intensas transformações sociais e políticas no Brasil, sendo, desde cedo, um espaço de subversão e crítica velada às estruturas de poder e aos costumes da época. Esses cânticos, muitas vezes executados em coro e divididos entre homens e mulheres, permitiam uma inversão das normas sociais – onde o humor, a irreverência e a linguagem explícita funcionavam como válvulas de escape para uma sociedade marcada por contradições.
No trecho em análise, temos a menção a versos que misturam o cotidiano com a sexualidade de forma quase lúdica: os homens iniciando com “Na minha casa não se racha lenha” e, posteriormente, as mulheres intercalando “Na minha racha, na minha racha”, culminando em trocas que questionam os limites do que se considera decoro ou vulgar. Essa dinâmica revela não apenas uma divisão de papéis de gênero, mas também uma constante negociação entre o respeito às convenções sociais e a libertação através do humor e da irreverência.
Ao lermos os versos, é impossível não notar a dicotomia entre a suposta pureza do passado e a “baixaria” que se faz presente nas próprias letras. Por um lado, a nostalgia invocada – “antigamente não tinha essas coisas” – parece indicar um tempo idealizado, desprovido das corrupções que se atribuem ao presente. Por outro, o registro histórico das marchinhas demonstra que, mesmo há mais de cem anos, a irreverência, o jogo de palavras e as insinuações de caráter erótico já permeavam o imaginário popular.
Essa dualidade serve de alerta para a visão recortada e moralista que se faz do passado. A seletividade da memória coletiva permite que se ignore ou se minimizem as manifestações de liberdade e de transgressão que, paradoxalmente, também existiam naquela época. Assim, afirmar que “no meu tempo não tinha essas coisas” torna-se uma estratégia retórica que apaga a complexidade histórica, reduzindo-a a um estereótipo conveniente e confortável para a crítica ao presente.
A crítica de Antônio Torres não é apenas sobre uma marchinha específica, mas sobre o modo como se constrói a narrativa do passado. Ao se recorrer a uma visão moralista e fragmentada, muitos utilizam a história como um espelho para condenar o que se observa no presente, ignorando que a cultura, em sua essência, é dinâmica e sujeita a constantes transformações. A insistência em apontar que “antigamente não tinha essas coisas” serve de desculpa para uma crítica simplista, desprovida do entendimento das múltiplas camadas que compõem qualquer manifestação cultural.
Essa leitura seletiva do passado implica um distanciamento da própria herança cultural. Ao tentar preservar um ideal nostálgico, corre-se o risco de desvalorizar a riqueza das expressões populares e de negligenciar os elementos de contestação e rebeldia que sempre estiveram presentes. Assim, o discurso moralista acaba por ser uma forma de imposição de uma ordem idealizada, que se recusa a reconhecer a complexidade e a imperfeição inerentes à experiência humana.
Outro aspecto relevante abordado no registro das marchinhas é a divisão dos papéis de gênero. A estrutura em que “os caras começavam” e “depois as mulheres” cantavam revela não só uma divisão formal, mas também um jogo de poder simbólico. As letras, por vezes, reproduzem estereótipos e subvertem outros simultaneamente, permitindo que se questionem as normas estabelecidas. Por exemplo, a inversão final – onde a mulher passa a cantar “Na minha bunda” ou “Na minha pica” – é uma clara provocação aos limites do decoro e à rigidez dos papéis de gênero.
Essas nuances evidenciam que, mesmo em um período distante, as questões relativas à sexualidade e à autonomia feminina já eram objeto de disputa e representação ambígua. Assim, a crítica moralista que se faz do passado é, em si mesma, um movimento que busca apagar ou simplificar essa rica complexidade, ao invés de encará-la como parte fundamental do processo de construção cultural e social.
A referência a Carmen Miranda amplia o debate, situando a discussão num contexto de evolução das manifestações carnavalescas. Carmen Miranda, com suas marchinhas que celebravam a brasilidade de forma irreverente e, muitas vezes, ambígua, se consolidou como um ícone cultural que transpassou fronteiras. Versos como “Mamãe, eu quero mamar. Dá a chupeta, dá a chupeta. Dá a chupeta pro bebê não chorar” ilustram uma continuidade na tradição do humor e da provocação, demonstrando que o que se critica hoje já foi, outrora, celebrado e reproduzido com naturalidade.
Essa continuidade evidencia que a moralização dos conteúdos artísticos e culturais é uma constante, mas que, ao mesmo tempo, a criatividade popular sempre encontrou maneiras de dialogar com os limites impostos pela sociedade. O legado de Carmen Miranda, por exemplo, não se restringe à sua imagem de exotismo ou à comercialização de uma cultura “amável”, mas também à sua capacidade de transgredir e de reinventar os códigos de seu tempo.
Ao adotar uma postura nostálgica e moralista, corre-se o risco de romantizar uma era que, apesar de seus encantos e peculiaridades, também estava repleta de contradições e de desafios. A cultura popular nunca foi um espaço homogêneo de pureza ou de ordem; ela é, antes de tudo, um campo de lutas simbólicas, de humor subversivo e de constante renegociação dos limites entre o aceitável e o proibido.
Portanto, a próxima vez que ouvirmos uma afirmação como “no meu tempo não tinha essas coisas”, é fundamental reconhecer que tal discurso é uma simplificação que ignora a complexidade histórica e cultural do Brasil. As marchinhas, com suas letras carregadas de duplo sentido e de críticas veladas, nos ensinam que o passado nunca foi tão “limpo” ou “moral” como a memória seletiva nos deseja lembrar. Elas nos recordam que a irreverência, a subversão e até mesmo a vulgaridade sempre fizeram parte do tecido cultural brasileiro, funcionando como mecanismos de resistência e de afirmação identitária.
Em última análise, a análise crítica das marchinhas de carnaval e da narrativa moralista que frequentemente se sobrepõe ao passado revela a necessidade de um olhar mais honesto e plural sobre a história. Em vez de idealizar uma época como intocada pelas “baixarias” do presente, devemos reconhecer que o que se chama de “baixo” ou “vulgar” sempre foi relativo, dependente do olhar de cada época e das lutas culturais travadas por cada geração. O registro das crônicas de Antônio Torres, longe de ser um relicário de valores imutáveis, é um convite para repensarmos nossas próprias posições e para celebrarmos a complexidade – e a imperfeição – que constitui a identidade cultural do Brasil.
Trago fatos, Marília Ms


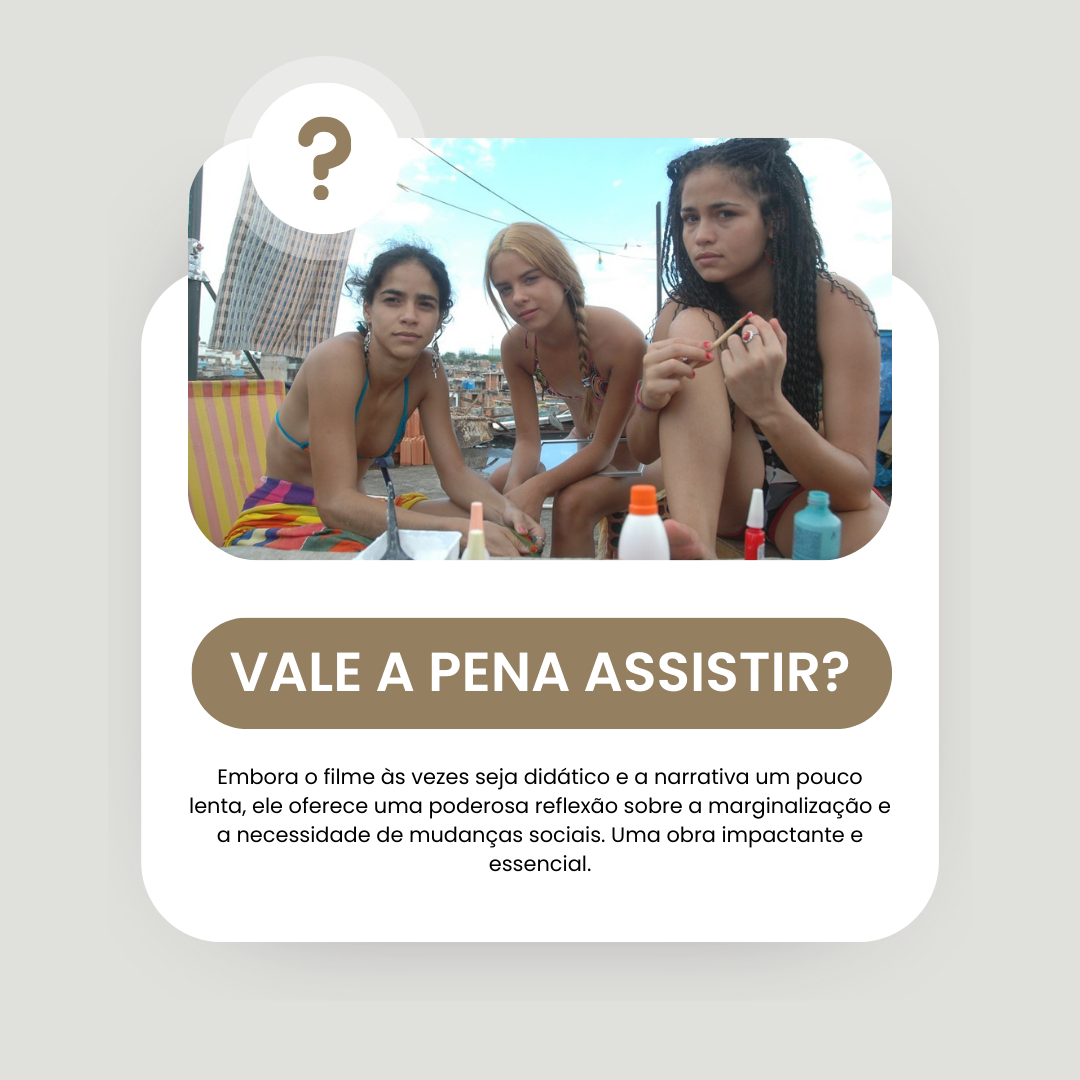
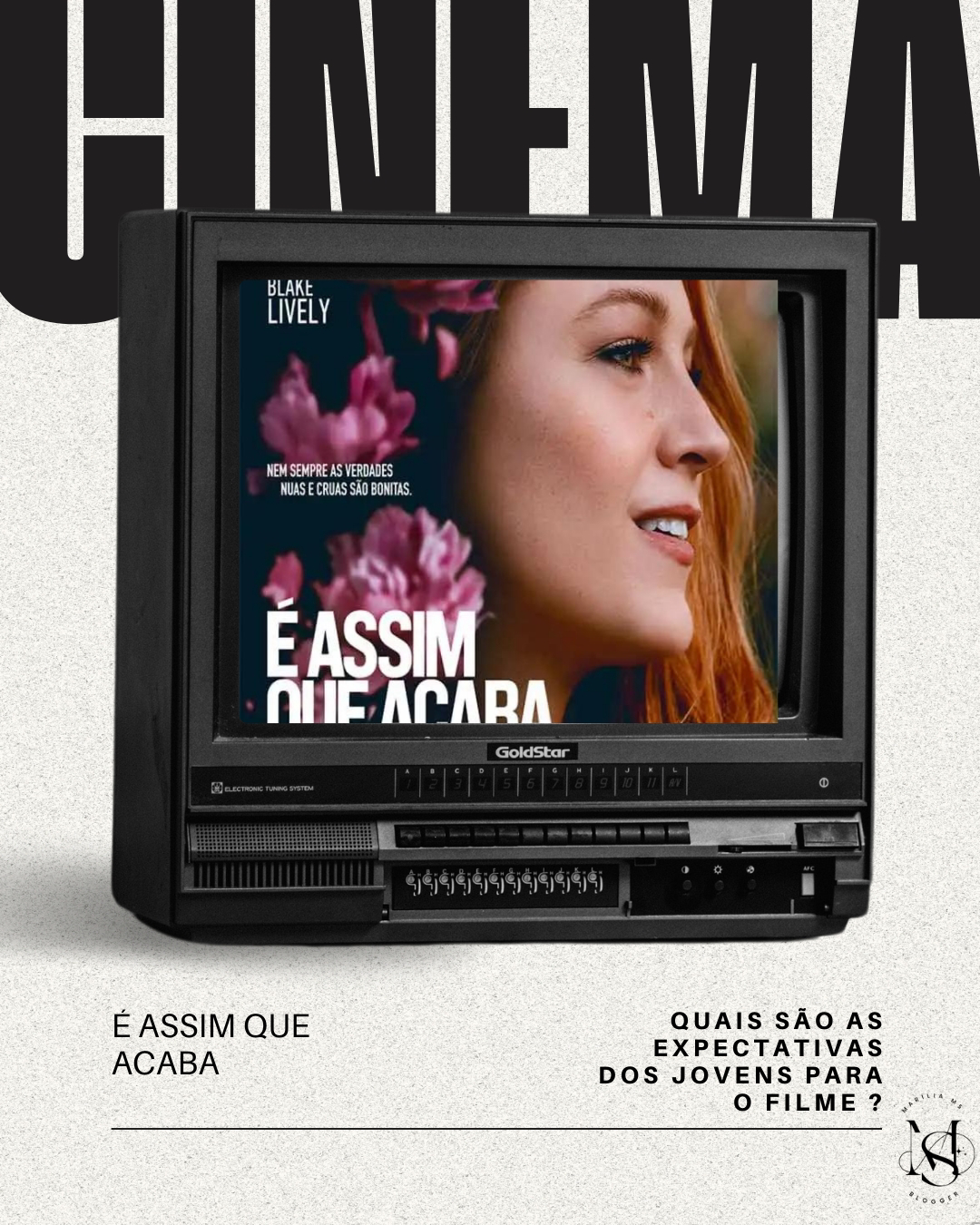
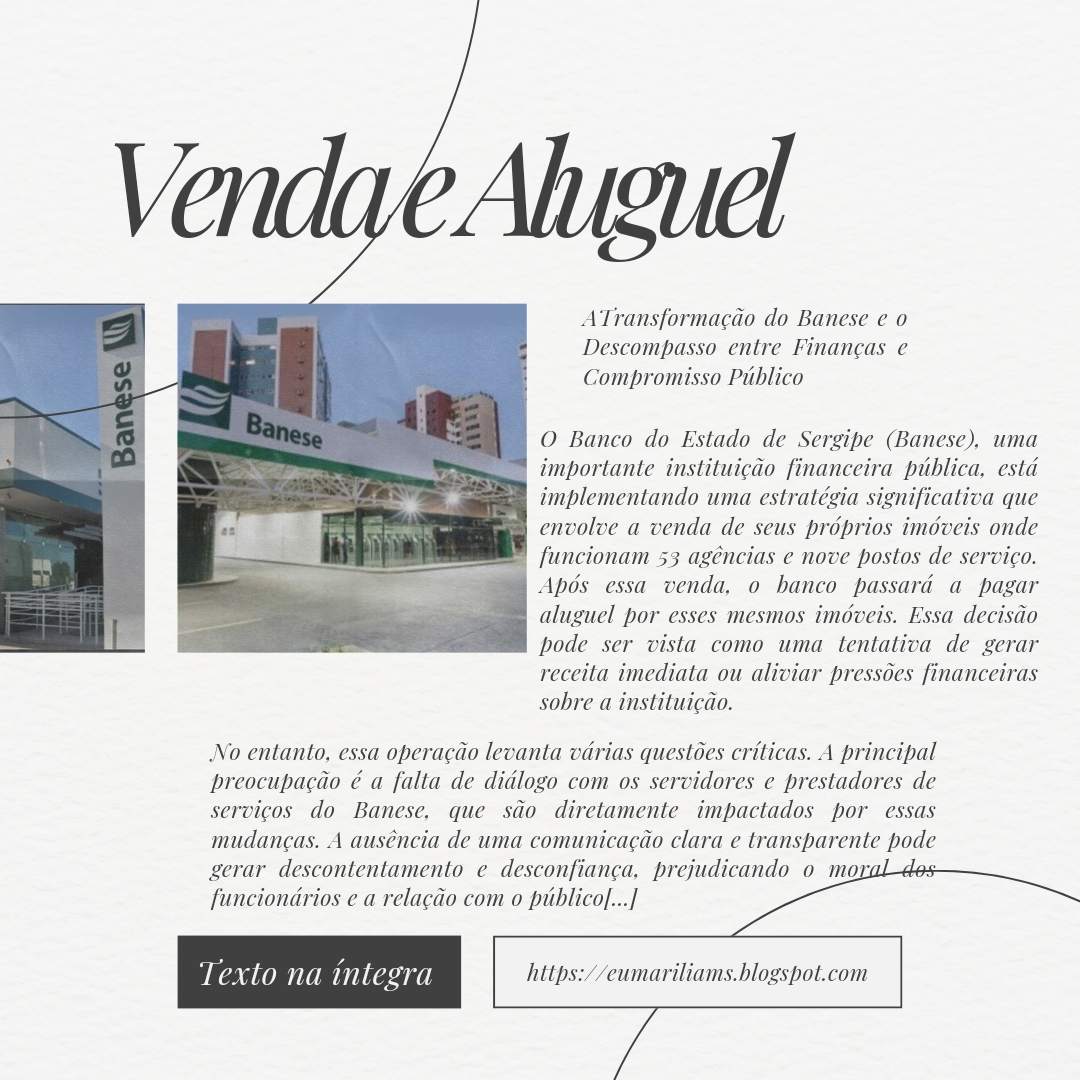
Comentários
Postar um comentário